sábado, 21 de março de 2020
Dia Mundial da Poesia
No dia Mundial da Poesia, Ode à poesia de Miguel Torga por Rui Oliveira
E porque o texto que segue, traz uma mensagem poética de esperança, face à terrível situação que vivemos, incluo-o também .
Apesar de tudo a liberdade
Sinto a doença à minha volta e à volta dos meus. E, nesta reclusão
involuntária, lembro-me de Trujillo e de suas altas torres. Não de todas, mas
de uma que, na sua delgada altivez, se assumiu como mirante.
A terra de Pizarro sempre me pareceu
estranha. À sua volta quase não distinguimos vegetação e, no meio da planura,
alcandora-se a rocha; sobre ela, ruas e casas que nada arranca dali. A cidade é
pontuada por estreitas construções de pedra, emergindo do meio de habitações
mais baixas, servidas por ruas estreitas. Parecem árvores sem grande ramaria
que procuram um sol que lhes permita o crescimento. Talvez catos gigantes, como
o do Convento da Arrábida, hoje com vários metros de altura e transformado em
madeira dura. Vemos campanários, torres evidenciando soberbas senhoriais,
locais de vigilância militar e, no centro imaginário de tudo, meio coberto por
heras que não param de subir, o “mirante das
Jerónimas”. Diz-me um guia que foi torre defensiva, sobrevivendo a um derruído
palácio que depois foi eremitério. Não tenho dados para confirmar ou
contrariar. Pela sua configuração, permite o resguardo e ao mesmo tempo a longa
contemplação da distância, cuja leitura nos permite encontrar melhor o
infinito. O edifício a que pertence é ainda hoje habitado por monjas da ordem
religiosa que tem como patrono o santo tradutor da Bíblia para latim. Sem nunca
lá ter entrado, tenho recordado muito o seu perfil no mundo e fora do mundo.
Talvez por sentir, pela primeira vez (embora obrigado pelas circunstâncias) o
que seriam o olhar e a vida daquelas mulheres que dos mirantes faziam
observatório, oratório, salvaguarda e farol. Em Trujillo, como em muitas e
muitas partes do mundo. f Não sei se elas viam o
mundo como ameaça, como via infetada pelas
mais diversas enfermidades morais e corporais de que queriam fugir. Os seus
textos dizem-me que sim, mas nem sempre há concordância entre a letra e o
espírito. Já se estudaram muitas dessas comunidades e sabe-se hoje que muitas
das mulheres que aí se acolhiam por vontade própria o faziam para fugir da
violência que as despersonalizava e, de algum modo, matava. Eram lugares onde
conseguiam uma liberdade acrescida, liberdade que para algumas delas se
transformava numa escada por onde subiam à libertação maior que era ter saudade
do infinito e, nele, de Deus. De modo distinto na forma, mas afinal semelhante
nas intenções, foi essa purgação e essa fuga que moveram também tantos homens a
tornarem-se eremitas – organizados ou não em comunidade – nas mais variadas
parte do mundo. Como na Arrábida, onde Frei Agostinho da Cruz (1540 – 1619),
franciscano-poeta convivente e vivente de um cristianismo depurado, à sombra de
grandes vultos como São Francisco de Assis ou Erasmo de Roterdão, soube
enaltecer uma vida pobre, afastada e mais livre: “Agora dei a volta por
caminhos / De solitários bosques enramados, / De feras bravas, mansos
passarinhos; // Que ainda que entre espinhos conversados, / Mais quero pé
descalço entre espinhos, / Que dos homens humanos espinhados”.
Nestes dias estranhos, em que fomos forçados a uma existência de espera e
de suspensão, rodeada pelo perigo, vivemos quase todos em reclusão. Vivendo,
apesar de tudo, num lugar privilegiado, senti este confinamento como uma prisão
domiciliária. Nem as exigências da tutela do meu ministério – ficcionando uma
escola que de facto está parada e não pode ser substituída por um “novo
paradigma tecnológico” (que prejudica sobretudo os alunos pobres, sem recursos
materiais e sociais) – me fizeram desligar desse incómodo sentimento de pena
maior, apesar da ausência da pulseira eletrónica. Fui
tentando, com os meus, ocupar o tempo, distraindo-me. Cumpri obrigações.
Correspondi a devoções. Descobri tarefas sempre adiadas e que, agora, viram
finalmente a sua concretização chegar a bom porto. Um arbusto finalmente
cortado. As ervas do quintal arrancadas, ao fim de meses de selvagem
crescimento. O pó do escritório erradicado, depois de tanta preguiça. O artigo
que pelos vistos avança, após tantos pedidos ouvidos mas não escutados. A
leitura retomada. O filme redescoberto e, no reencontro, aquela peça musical
nunca atendida… Sem largar o medo, lutei e luto contra o medo, sabendo que o
temor não irá impedir a entrada do vírus, se ele tiver de entrar e fazer das
suas. Nada disto era, todavia, capaz de pelo menos atenuar o toque das grades numa
gaiola invisível
Até que resolvi redescobrir a varanda do
primeiro andar que, não fossem as restrições da arquitetura do bairro, já teria
desaparecido. Pela manhã, depois de uns minutos de conversa com o miúdo,
resolvi deixar-me estar por ali. A ler. Coisa que nunca ali fizera, pela falta
de resguardo que sentia retirar-me a privacidade para mim inerente ao ato de
leitura. Quase sem gente pelas ruas, desta vez afoitei-me com o livro na mão.
Senti-me como as monjas jerónimas do mosteiro de Trujillo, mesmo sem ter a sua
virtude nem a sua torre nem o seu horizonte. Tudo se tornou mais leve, mesmo
sem afastar da mente o chumbo que nos domina e condiciona. Virei-me para sul e,
acompanhado pela passarada, sobretudo por uma família de corvos pela qual tenho
particular afeição, redescobri no horizonte essa Serra que nos “move a
contemplar mais fermosura”.
Mesmo que só possamos comer o que resta do açambarcamento diário nos
supermercados, mesmo que nos vejamos obrigados ao recolhimento que talvez seja
apenas uma forma de salvaguarda, mesmo que as perdas nos angustiem, só tendo o
poliedro da liberdade no pensamento conseguiremos transformar a reclusão em
clausura, encontrando novas formas de resistência e de elevação. Talvez
consigamos, assim, ver no “hortus clausus”, no horto fechado da nossa casa e
das nossas vidas (afinal povoado por muitas ínfimas alegrias a descobrir), um
lugar propício onde o vazio e o abalo destes dias se transformem em detergente.
Talvez assim sejamos obrigados a limpar
de nós e desta civilização muita da sujidade que, há demasiado tempo, vai
entupindo os nossos poros, impedindo a nossa mais subtil respiração.
Talvez. Não sei. Não obstante, assim desejo. E nesse desejo creio ser
acompanhado por muitos.
Ruy Ventura Escritor e investigador
In Público Imagem: D.R.
Publicado em 21.03.2020
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

























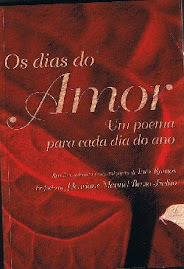
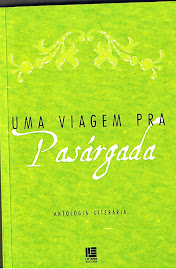






Sem comentários:
Enviar um comentário